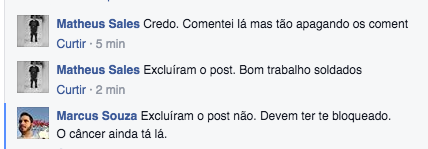Amo fazer aniversário, como já falei aqui antes. Contudo, em outras áreas da vida, tenho uma enorme dificuldade em celebrar coisas relacionadas à mim, sejam elas pequenas ou grandes. Tem vezes que é porque não faz sentido. Não me atrai viver nesse modo contemporâneo de hiperexposição em que cada passo dado tem que ser noticiado como se a cura de um câncer estivesse sendo descoberta. Sei lá.
Outras vezes tenho medo de parecer metida ou muito autocentrada. Dia desses li uma escritora que curto muito, a Thaís Campolina (e que conheci ao vivo hoje, finalmente), falando sobre essas coisas também: que acaba falando menos do que gostaria sobre as próprias realizações. Acho (tenho quase certeza, kkkk) de que isso é mais um dos braços da socialização feminina tentando nos manter mansas, quietas, modestas e no nosso devido lugar (um lugar de produtividade silenciosa, com pouco brilho e muita sobrecarga).
De qualquer maneira, acho importante dizer que, em 2019, o projeto Vulva Revolução completou cinco anos (e só agora consegui sentar para escrever sobre, é a vida). Uau… Passa muito rápido! Hoje em dia chamo de projeto, e não apenas de blog, pois muitas coisas aconteceram a partir desta plataforma online aqui. E vou contar um pouco sobre isso tudo pra vocês. Considero importante que gente comum, como eu, perceba que pode realizar coisas ótimas sem precisar de patrocínio. Que nem tudo na vida é like, métrica, #publipost ou programa de televisão.
Existem muitas pessoas por aí que estão, de fato, buscando estabelecer redes de informação, conhecimento, diálogo e troca de experiências de uma forma mais ampla e horizontal. Ninguém merece simplesmente girar ao redor de uma imagem específica de alguém que abraça o mundo e fala de tudo sem realmente falar de nada só para impulsionar a própria fama. A coletividade é possível. Ou, ao menos, tentamos fazer ser (e nada é mais deprimente do que a cultura de celebridade que está cada vez mais ampliada e permeia tantas esferas sociais atuais).
Me interesso por feminismo tem muito tempo, mais de quinze anos. Ouvia falar do movimento aqui e ali e, de repente, estava escutando bandas punks feministas, indo a shows, colecionando zines. Fui crescendo e descobrindo que existia toda uma área de estudos voltada para o tema, parti para os livros e comecei a ler mais e mais. O blog nasceu em 2014, por conta da minha vontade de sistematizar ideias, compartilhar leituras, realizar traduções, organizar materiais e escoar, em algum lugar, angústias e pensamentos.
No primeiro ano da plataforma online, em 2015, fiz um evento de comemoração que deu muito trabalho, mas foi incrível: o VULVA LA REVOLUCIÓN. Contei com o apoio de muita gente, e aqui falo um pouco sobre todo o processo. Teve feira com artes e produtos feitos por mulheres, rodas de conversa, música, comidinhas, bebidinhas, essas coisas. Fiz também um evento para celebrar os três anos do blog, em 2017, em conjunto com um ateliê de arte chamado Gruta, que estava sendo inaugurado (infelizmente ele já fechou as portas, mas as integrantes seguem firmes & fortes no rolê). Foi nos mesmos moldes do primeiro e, mais uma vez, foi bem legal.

Boloceta feito pela minha amiga Luiza Ramos para comemorar os três anos de Vulva Revolução ❤
Junto com algumas das mulheres da Gruta (mais especificamente: Tais Koshino, Livia Viganó, Camila Ligabue e Gabi Lovelove6), com a Bia Cardoso, das Blogueiras Feministas, e com as minhas amigas Ludmilla Brandão e Talita Ramos, fizemos o Gruta de Estudos Feministas. Nos encontrávamos mensalmente para discutir temas e textos previamente selecionados e, por um ano, fizemos encontros e debates com lanchinhos, poesia, conversa e troca de ideias. Em algumas ocasiões, alguns encontros eram abertos para o público e envolviam discussões que estavam acontecendo no momento, como na época em que a questão do aborto estava sendo discutida no Superior Tribunal Federal (STF).
Tudo isso rolou em Brasília (DF), minha cidade natal.
Um outro evento que nasceu a partir do blog foi o MULHERAJE, que idealizei & realizei em 2018 e 2019 com a minha querida amiga Amanda Dias, em São Paulo (SP), em um espaço chamado A LAJE. A nossa proposta era evidenciar mulheres-que-fazem por meio de uma feira com artesanato, livros, zines, pôsteres, cerâmica, quadrinhos e tudo mais. Sempre rolam shows, bebidinhas e afins também. Na primeira edição, por exemplo, conheci o ótimo trabalho da BEX, compositora, beatmaker e produtora musical que mescla jazz e ritmos eletrônicos, e colou no dia para uma apresentação.

MULHERAJE 2018 (montagem feita pela Amanda)
A partir da Vulva Revolução, comecei também a fazer publicações impressas. Zines mesmo. Misturei paixões adolescentes com práticas da vida adulta e passei a sistematizar ideias e leituras também nesse tipo de material. Cheguei até a me arriscar artisticamente e criar zines costurados à mão, com textos mais literários, fiz colagens, aprendi um pouquinho de diagramação etc. O primeiro deles, o Vulva Revolução #1, surgiu a partir de um pequeno financiamento coletivo de sucesso apoiado por quem curte o blog e contou com várias colaborações de artistas do Brasil todo. Teve até festa em parceria com uma produtora de Brasília, a Moranga, para ajudar na divulgação e arrecadação de grana. Foi muito divertido. A galera da produção fez uma decoração especial e chamou só mina pra discotecar (e todas muito fodas), como a Carol Stérica, do Sapabonde, e a Mari Perrelli, que anda bombando Brasil afora.

Eu e as criadoras do Conspiração Libertina, uma marca de acessórios feministas (que teve sua estreia em um dos meus eventos), na Moranga Vulva Revolução, 2016
Depois, fiz também os zines Vulva Conexão, que discute tecnologia, internet e feminismo; Solidão Involuntária, que traz um texto melancólico repleto de crises existenciais; Lucrativa, com colagens que criticam a indústria da beleza e Feminismo Suave Não Liberta, Mas Gera Lucro, uma adaptação deste texto aqui. O Goji Berry, zine mais recente, lançado ano passado, aborda aspectos críticos diversos sobre algo que, usualmente, nos parece muito corriqueiro: alimentação. A publicação foi idealizada por mim e conta com valiosas colaborações de autoras como a já citada Thaís Campolina, além de Laura de Araújo, Amanda Valmori (parceira, amiga querida e que admiro demais como escritora, autora do extinto e maravilhoso blog Deixa de Banca) e Glênis Cardoso (que faz parte do incrível projeto Verberenas). O projeto gráfico, belíssimo, é do multitalentoso Estêvão Vieira, ou Stêvz, que é designer, compositor e cartunista, com fotos de Ana Cortez.
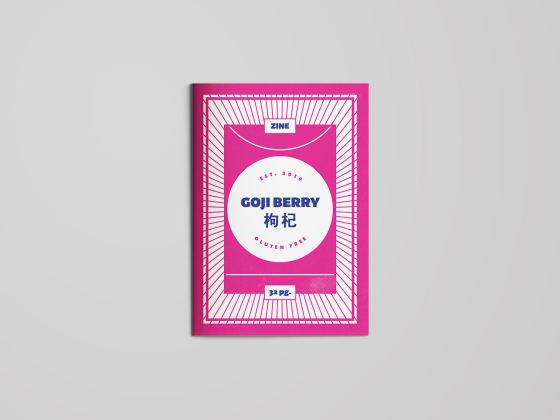
Por conta dos zines, comecei a participar de feiras de publicação independente por todo o Brasil. Isso é um ótimo jeito de ter um contato mais próximo com outras pessoas que também estão no corre de fazer os próprios projetos acontecerem e é uma maneira muito legal de estar em contato com o público, trocar ideias, estreitar laços. Recebi convites variados e fui para escolas conversar com alunos e alunas sobre temas sensíveis, como gênero e violência contra a mulher; mediei rodas de conversa; participei de debates em cineclubes; realizei oficinas em universidades e fiz curadoria de eventos voltados para “empoderamento feminino” (ainda que eu tenha questionamentos sobre o uso indiscriminado dessa expressão, mas isso é papo pra depois e, de qualquer modo, mulheres reunidas em prol de assuntos importantes é sempre válido).
Em 2016, conheci o Pará por meio do projeto Imaginárias, da minha grande amiga Gabriela Sobral, uma jornalista e poeta incrível e que, desde os tempos da faculdade, está ao meu lado e no meu coração. Foi uma experiência enriquecedora, tocante, um aprendizado forte. O projeto reuniu pessoas de áreas diversas para realizar oficinas com jovens de Soure, pequeno município da Ilha do Marajó. Teve fotografia, escrita, pintura, colagem, desenho e, no fim de tudo, ajudei a garotada a selecionar e editar o próprio material para consolidar uma publicação impressa. Tudo de modo bem horizontal, explorando a paisagem local e levando em consideração as vontades e os conhecimentos de quem estava participando dos encontros. Aproveitei ainda para visitar Belém (me apaixonei) e participar de eventos por lá.
Mantendo a sanidade
No meio de todos esses acontecimentos, trabalhei em muitos lugares, com muita coisa (pra quem não sabe, sou jornalista). A Vulva me manteve ativa em uma época em que eu estava em um emprego horrível, que defendia coisas que não acredito e me mantinha enfurnada em um porão em que ninguém me valorizava (mas, pelo menos, eu tinha a adorável companhia de uma colega de trabalho maravilhosa). Eu precisava do dinheiro e da experiência, não aguentava mais freelas precarizados, então foi muito importante estar lá. Paralelamente, estava sempre escrevendo e planejando atividades que me relembravam quem eu realmente era.
Com o tempo, consegui me inserir mais e mais dentro de áreas que têm mais a ver comigo: assessorei projetos, artistas, escrevi para veículos diversos, essas coisas. Hoje, colaboro com uma revista que gosto muito e escrevo sobre cultura. Me especializei em gênero, sexualidade e direitos humanos na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e, desde o ano passado, estou lá como mestranda da área de comunicação e saúde. Em breve lanço meu primeiro livro de contos (eita), que não possui relação direta com o blog, mas tem a ver com o meu processo de me autorizar a escrever, falar, ser. Queria estar mais feliz, mas confesso que meu estômago borbulha de medo e ansiedade o tempo inteiro.
O que aprendi com isso tudo?
Que precisamos tirar ideias da cabeça. Várias vão dar errado, mas muitas vão dar certo também. Falhe mais, falhe melhor, não tenha medo de falhar. Aprendi que articulações sem fama e sem grana exigem muita transparência e diálogo (deveria ser sempre assim, na verdade). É preciso apoiar quem te apoia e buscar meios de oferecer outras recompensas, como espaço em um evento, escambo de serviços. Sei lá. Mas, de verdade, transparência é muito importante mesmo. Tem que chegar na pessoa e falar: “Eu preciso disso e daquilo, você tem interesse em me ajudar? Posso fazer algo por você depois também”, sabe? E não ficar fingindo que a ajuda que você precisa é, na verdade, um favor pra outra pessoa (tipo: “Nossa, isso vai te trazer visibilidade!” – muitos risos). Já fui parar em uma entrevista de emprego que era, na verdade, um trabalho voluntário oferecido com ares de salvação mundial por alguém querendo abrir um site megalomaníaco sem ter um real pra isso. Isso não se faz.
O rolê #DIY exige uma ética que envolve respeito e comunicação. Mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente espera. Por isso que é muito importante também saber ouvir não, entender o tempo do outro e aceitar que afinidades temáticas e políticas não necessariamente vão resultar em amizades eternas ou personalidades compatíveis. E tudo bem. Coisas ótimas podem ser feitas mesmo assim.
A Vulva é totalmente independente, não gera lucro. Tudo o que já ganhei até hoje com vendas de materiais como zines ou camisetas, por exemplo, foi usado no próprio projeto (para pagar a confecção de materiais, domínio de blog e afins, por exemplo). Emprestei meus conhecimentos e minha força de trabalho pra muita gente. E muita gente fez o mesmo por mim. Pode parecer clichê, mas é real: no que deu certo ou no que deu errado, ficou sempre um grande aprendizado – e para acertar ou para errar, tem que botar a mão na massa, né? Quem vê close, não vê corre.
CADA PESSOA É ÚNICA E TUDO É IMPORTANTE
Falo das minhas experiências sem esperar que elas sejam reproduzidas por alguém, pois o que passei tem a ver com a minha trajetória, com os meus interesses, com o que sei fazer. O que quero, na verdade, é inspirar as pessoas a encontrarem algo que as toca para que, a partir daí, coloquem esse algo em prática de um modo que crie articulações e laços. Tenho amigas que gostam de ir para o mato estudar plantas, e isso é importante. Tenho amigas que usam o conhecimento que possuem em exatas para dar aulas de matemática para meninas, e isso é importante. Tenho amigas que cortam cabelo, pintam, dançam, tocam instrumentos, trabalham em escritórios de advocacia, lojas de shopping e realizam feitos diversos do jeito que podem e conseguem. E tudo isso é importante. O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? O que você gostaria de aprender?
ESCREVERESCREVERESCREVER
Este ano, a Vulva vai ficar mais quieta. Entre mil coisas, tenho uma dissertação pra concluir. Ando, também, cansada das dinâmicas atuais das redes sociais como um todo. Já falei sobre aqui, brevemente, mas tenho muito mais a desenvolver sobre o assunto, na verdade. Dia desses rascunhei umas ideias sobre o tema e qualquer hora escrevo sobre com calma. Quem sabe.
Escrever com calma, aliás, sempre foi a proposta desse blog, que é tocado no meu tempo livre, sem nenhuma obrigação comercial ou algo do tipo. Gosto de ler bastante sobre um assunto, pesquisar, conversar com outras pessoas… Só que estudar um tema envolve mergulhar em livros, filmes, artigos, histórias de vida e muito mais. Por isso, me angustia bastante quem trata a escrita como mera “produção de conteúdo” e cospe um monte de porcaria com muita polêmica e pouca profundidade. De qualquer maneira, fico feliz por, ao longo desses anos, ter postado pouco, mas com intensidade. Muitos textos viajaram – e ainda viajam – bastante e minha meta de trocar ideias e estimular debates com certeza foi alcançada.
Já fui lida por pessoas de todo o país, já fui repostada por páginas da Índia, já vi texto meu sendo utilizado em evento de arte em Portugal, já fui citada em artigos acadêmicos, já soube de psicólogas e professoras que recomendaram algo que escrevi para pacientes ou alunos… A lista é imensa. Tudo isso me ajuda ver que alimentar um projeto pessoal não é tempo perdido. Foram muitas as pessoas que, ao longo desses anos, compartilharam coisas íntimas comigo, dúvidas, medos, vontades, inspirações, e considero um privilégio poder acessar um pouco do universo interior de tanta gente a partir da partilha de meus próprios pensamentos.
O que eu queria mesmo, no entanto, era um dia pegar parte do material que produzi durante esses cinco anos, juntar com umas coisas inéditas e lançar um livro, para que esse período fique registrado de um modo mais organizado – e para que as coisas não se percam se, um dia, eu desistir de manter esse espaço virtual (eventualmente pode acontecer, tanto pela falta de tempo, quanto pela minha vontade de me dedicar a outros interesses). ALÔ, EDITORAS! TENHO VÁRIOS LEITORES & LEITORAS! FALEM COMIGO EM VULVALAREVOLUCION@GMAIL.COM, OK? BEIJOS.

Nem tudo são flores
Porém, ser “publicamente” feminista tem hora que é muito chato, pois tem gente que usa isso como desculpa pra praticar um vigilantismo controlador e competitivo bastante nocivo. Fora quando te cobram que você fale disso, faça aquilo… Me dá vontade de gritar “SOU SÓ UMA PESSOA QUE TOCA UM PROJETO INDEPENDENTE NAS HORAS LIVRES, NÃO SOU UMA ONG E MUITO MENOS UMA EMPRESA”, sério. As pessoas precisam parar de jogar a responsabilidade da ação para o outro ao invés de se tornarem indivíduos mais politicamente proativos. E reclamar de quem está tentando fazer algo é sempre cômodo pra quem quer fingir que faz algo também e, na verdade, não está fazendo nada (isso não significa que críticas não sejam válidas, mas tem gente que só quer miar o rolê alheio, e não construir junto).
Cinco anos não são cinco dias
De qualquer modo, não tem como não celebrar tudo o que aconteceu, todos os textos, leituras, encontros, eventos, parcerias, colaborações. Com certeza deixei um monte de coisa de fora, mas acho que consegui trazer um panorama geral dos principais acontecimentos relacionados à Vulva. Uma rede incrível foi mobilizada diversas vezes e ideais com propósitos feministas, buscando descentralização de poderes e novas formas de se observar a realidade, foram divulgados.
Uma vez, dentro da minha atuação como jornalista, entrevistei uma quadrinista feminista que gosto bastante, e ela falou da importância de contarmos as nossas próprias histórias, para que não sejam apagadas ou jogadas à margem – que é o que acontece muito com mulheres e minorias em geral. E é, de fato, um exercício um tanto quanto difícil esse de se enxergar com o devido respeito e seriedade. Estamos sempre acostumadas a nos diminuir ou a tratar os nossos feitos como irrelevantes.
No grande carrossel da existência, o que acaba sendo visto como importante nos dias de hoje envolve títulos, sobrenomes, verbas altíssimas, celebrização de indivíduos e uma constante recriação do mito do self-made man em uma versão customizada para todos os gostos, inclusive progressistas. E, na verdade, por trás de toda “grande pessoa” existem sempre várias pessoas do mesmo tamanho. Ninguém faz nada sozinho, mas todo mundo pode fazer alguma coisa. E essa alguma coisa é essencial para que nós, pessoas comuns, possamos nos sentir mais vivas e menos impotentes. Que a gente siga em frente, juntos e juntas, tateando o desconhecido em busca de laços mais firmes e propostas de um mundo melhor.
[E APROVEITEM PARA FAZER PARTE DA MINHA CAMPANHA “DÊ UNFOLLOW EM INFLUENCERS & GRANDES EMPRESAS E APOIE PROJETOS INDEPENDENTES“]
Obrigada a cada pessoa que fez parte disso tudo, de alguma maneira.





 “The Devil Wears Nada”, ilustração de Polly Nor
“The Devil Wears Nada”, ilustração de Polly Nor